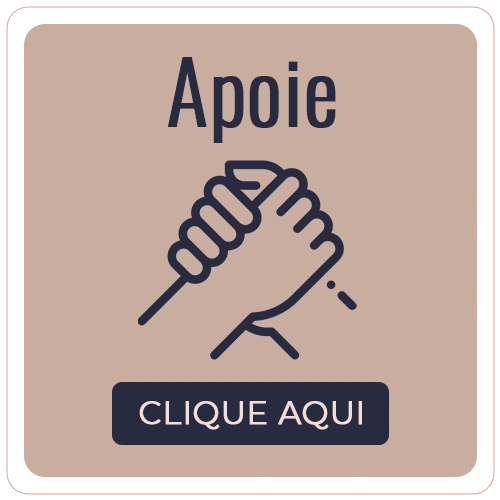O Ecletismo nasceu na Europa, no início do século XIX, a partir do embate entre duas correntes arquitetônicas, o Neoclassicismo e o Neogótico – ambos os movimentos procuravam por suas referências no historicismo. A polêmica entre o neoclássico e o neogótico não teve vencedor, mas possibilitou o desenvolvimento do revivalismo histórico e das primeiras obras sobre a história da arquitetura. O maior conhecimento sobre as linguagens arquitetônicas de diferentes países e períodos deu origem à postura eclética na arquitetura (BENEVOLO, 2004). A partir de então, houve uma ampliação do vocabulário arquitetônico, não se restringindo apenas às referências clássicas e góticas.
Para Lemos (1987), o ecletismo deve ser entendido como a somatória de toda a produção arquitetônica criada a partir do final do primeiro quartel do século XIX, juntando-se ao neoclássico. A princípio, surgiram as obras neogóticas em oposição às neoclássicas e, a partir dessa coexistência, explica Lemos (1987: 70), “veio à tona no panorama arquitetônico a expressão filosófica ecletismo, que designava primordialmente a tolerância a duas ideias ou dois comportamentos concomitantes”. Após o neogótico, apareceram outros neos formando uma corrente historicista pautada na liberdade de criação, permitindo a combinação de formas e a mistura de ornamentações de diferentes estilos. O ecletismo não pode ser considerado um pastiche, ele se constitui uma opção consciente pela diversidade de estilos em conformidade com a função dos edifícios, sejam eles de caráter institucional ou particular.
O ecletismo chegou, efetivamente, ao Brasil com o aumento das importações provocado pelo crescimento da exportação do café nacional na segunda metade do século XIX. Segundo del Brenna (1987), a primeira ocorrência da arquitetura eclética no Rio de Janeiro, e provavelmente no Brasil, se deu com a reforma da residência de D. João VI realizada pelo pedreiro inglês John Johnston, que chegou ao Brasil como encarregado pela montagem do portão neoclássico destinado à residência real em São Cristóvão, presente do duque de Northumberland, em 1813. As intervenções de Johnston no palácio da Quinta da Boa Vista são difíceis de precisar, pois relatos da época apresentam informações conflitantes, mas é certo que a edificação recebeu elementos em conformidade com a linguagem gótica, alterada posteriormente, em 1840, com a adoção dos padrões do neoclassicismo. Existe um registro de Debret do Palácio da Quinta da Boa Vista, de 1831, no qual podemos ver como era a edificação antes de assumir as formas completamente neoclássicas (Figura 1).

O ecletismo no Brasil recebeu diversas influências, entre elas, o romantismo inglês e tendências portuguesas tradicionais originárias do século XVIII, como o enriquecimento cromático pela utilização de azulejos, telhas esmaltadas e outros elementos decorativos de inspiração oriental (DEL BRENNA, 1987). Além dessas, também contribuíram para a formação da linguagem eclética nacional o interesse pelos novos produtos desenvolvidos a partir da Revolução Industrial na Europa. Para Lemos (1979), no Brasil, o ecletismo assumiu dois aspectos diferentes quanto aos meios de execução. Nas grandes cidades, as camadas privilegiadas encomendavam seus projetos a arquitetos estrangeiros que trouxeram de seus países de origem as novidades de diversas linguagens estilísticas. As novas soluções arquitetônicas foram utilizadas, principalmente, nos recém-abertos bairros residenciais, como a Avenida Paulista e a zona sul carioca, consequência do desenvolvimento urbano e do crescimento demográfico das cidades brasileiras nas últimas décadas do século XIX. A segunda categoria diz respeito à produção arquitetônica praticada pelas camadas menos favorecidas da sociedade que não possuíam recursos suficientes para contratar arquitetos estrangeiros de renome, dando origem a um ecletismo popular muito encontrado nos bairros periféricos das capitais e nas cidades do interior.
A adoção da linguagem eclética nas grandes cidades brasileiras, principalmente nas últimas décadas do século XIX, ocorreu segundo contextos específicos. O ecletismo empregado na construção da nova capital do estado de Minas Gerais significou o rompimento com a tradição colonial e o desejo de introduzir no estado os conceitos de modernidade da época. O projeto para Belo Horizonte, idealizado por Aarão Reis, em 1894, propunha espaços hierarquizados, ordenação de obras arquitetônicas, adequação dos aspectos funcionais dos monumentos públicos que deveriam estar dispostos a partir de um centro político monumental, relação de proporção entre vias e quarteirões, esplanadas e parques de lazer (SALGUEIRO, 1987). Elegeu-se a linguagem eclética para a construção dos edifícios oficiais e, num primeiro momento, para as residências das figuras mais importantes do governo e de particulares pertencentes às camadas mais abastadas da sociedade mineira. A arquitetura eclética se tornou o símbolo do progresso do estado de Minas Gerais, representado pela construção da nova capital dentro dos princípios de modernização característicos do final do século XIX.

O ecletismo chegou a São Paulo na segunda metade do século XIX, junto com a estrada de ferro, inaugurada em 1867, responsável por levar ao planalto paulista novas ideias, equipamentos, materiais de construção e, principalmente, mão de obra, tudo importado da Europa. O crescimento da exportação de café e do consequente enriquecimento das camadas sociais vinculadas à produção cafeeira também contribuiu para a adoção dessa linguagem arquitetônica entre as famílias mais abastadas. Os grandes fazendeiros e os grandes comerciantes passaram a ter mais contato com a Europa, através de viagens e da importação de costumes, especialmente os franceses. Essa aproximação com o modelo europeu de comportamento e modo de vida despertou na alta burguesia o desejo de viver em São Paulo como na Europa, provocando crescimento na importação de produtos industrializados, materiais de construção e profissionais. Imigrantes de diferentes origens e qualificações diversas chegaram a São Paulo atraídos pelas oportunidades de trabalho oferecidas pela alta burguesia. Dessa forma, tanto a capital quanto as cidades no interior do estado foram invadidas por engenheiros, arquitetos, pedreiros, mestres de obra, marceneiros, pintores, escultores, e diversos outros profissionais estrangeiros. A mão de obra qualificada vinda da Europa, especialmente da Itália, e o grande fluxo de dinheiro promoveram o surgimento na capital paulista de grandes empreendimentos imobiliários, lojas de artigos de luxo, os primeiros restaurantes, confeitarias e hotéis. A taipa, sistema construtivo característico da região, foi sendo substituída aos poucos pelo tijolo e a cidade de São Paulo ganhou uma nova aparência dentro da linguagem eclética.

No Rio de Janeiro, a introdução do ecletismo ocorreu através da institucionalização do conhecimento na principal escola de arquitetura do país. Após a Proclamação da República, a Academia Imperial de Belas Artes se tornou a Escola Nacional de Belas Artes e passou por uma reforma no ensino. Essa renovação tinha como objetivo fazer com que os alunos entrassem em contato com várias doutrinas artísticas e não apenas com a clássica, introduzindo a linguagem estética do ecletismo na Escola. O estudo das diversas produções arquitetônicas do passado já havia se estabelecido na École des Beaux Arts desde a reforma de 1863, quando foram abertos ateliês de várias escolas de pensamento arquitetônico. Assim, o ensino de arquitetura na instituição que servia de modelo para a Escola Nacional de Belas Artes deixou de se limitar aos conceitos clássicos e reconheceu a importância de diferentes linguagens históricas.
Dessa forma, a verdade na arquitetura não se encontrava mais em apenas uma linguagem, em um único modelo de beleza. O arquiteto deveria estudar as produções arquitetônicas de outros tempos, selecionar os melhores elementos e produzir uma síntese. Assim, segundo Ricci (2004: 81), “seria constituída uma arquitetura que fosse bela e útil, satisfazendo as necessidades do presente e projetando uma imagem da sociedade para o futuro.” Nessa proposta de constituição de um novo estilo arquitetônico o que estava em jogo era a subjetividade do arquiteto, ele deveria possuir a capacidade de escolher dentre as formas do passado a que melhor respondesse aos problemas contemporâneos, propondo uma solução atual para as questões da sociedade sem obedecer às regras e normas estabelecidas.

A história da arquitetura, especialmente a europeia, possuía grande importância como modelo para a nova linguagem arquitetônica, pois através dela o profissional encontrava soluções para os dilemas contemporâneos. A postura do arquiteto frente às técnicas e formas do passado não era passiva, pois a história fornecia apenas modelos que deveriam ser transformados para gerar novas obras. O ecletismo não se caracterizava simplesmente por uma combinação de estilos do passado, ele também se distinguia pela utilização de novos materiais e técnicas construtivas.
O currículo da Escola Nacional de Belas Artes, elaborado durante a reforma de 1890, visava introduzir um caráter mais pragmático e tecnológico no estudo da arquitetura. Para isso, foram incluídas disciplinas como cálculo, mecânica, materiais de construção, resistência dos materiais, topografia e higiene das habitações. A história fornecia, além dos elementos estéticos, suporte teórico e metodológico. A arquitetura eclética não pretendia romper com a história da arquitetura, mas, ao contrário, dar continuidade à evolução da mesma, aprimorando princípios compositivos e construtivos a fim de torná-los representativos da sociedade de então (RICCI, 2004).
A produção eclética brasileira tinha necessidade de criar uma base cultural que a vinculasse às produções arquitetônicas realizadas na Europa. No Brasil, foi preciso apagar sua história colonial forjando novas origens, ao contrário do que ocorria no continente europeu, onde a criação de um estilo nacional se baseou em estudos de movimentos históricos. A vinculação à história da arquitetura europeia garantia ao país sua inserção na origem civilizada, cosmopolita e moderna da tradição artística ocidental, relacionando o presente ao progresso e a um futuro de desenvolvimento. O ecletismo arquitetônico era considerado símbolo do progresso da nova sociedade cosmopolita, moderna e civilizada.
Os modelos arquitetônicos nesse período são universais, não se restringindo à arquitetura francesa da Beaux Arts. Os arquitetos realizavam pesquisas para encontrarem o melhor estilo, a melhor composição formal e a melhor técnica a fim de solucionarem problemas atuais. Havia então uma “internacionalização” da produção arquitetônica, ou seja, toda edificação gerava estudos e críticas, podendo servir de exemplo para outras construções. A circulação de ideias fazia parte do universo eclético e a busca por soluções levava a consolidação ou questionamento das escolhas estilísticas, espaciais e construtivas.
Ainda que haja diferenças entre os contextos em que o ecletismo triunfa como linguagem arquitetônica nas grandes cidades brasileiras, alguns aspectos são semelhantes. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro a arquitetura é institucionalizada. Na capital federal através do ensino, pois o ecletismo fazia parte da formação dos profissionais de arquitetura que passavam pela principal escola do país, a Escola Nacional de Belas Artes, proporcionando a disseminação dessa linguagem em outras regiões. A construção da capital mineira está diretamente relacionada à posterior reforma empreendida na capital federal por Pereira Passos. A idealização de modernização e civilização da sociedade através da arquitetura e do urbanismo segundo o modelo europeu se encontra nas duas propostas. Em contraposição, a produção arquitetônica eclética em São Paulo está diretamente relacionada com a imigração europeia de profissionais da construção civil, de arquitetos e engenheiros a pedreiros e marceneiros, e com sua aplicação na construção de residências da alta burguesia paulista. Ainda que no caso paulista o ecletismo não tenha sido adotado primeiramente pelo estado, mas pelos particulares, assim como nas demais capitais, a arquitetura foi utilizada como meio de expressar riqueza, poder, dignidade, bom gosto e, principalmente, modernização e comprometimento com os modelos de comportamento e cultura europeus. A aparência da construção revelava a importância de seu proprietário e sua condição financeira, além de representar o bom gosto, a dignidade e a adoção de um modo de vida considerado moderno.
A partir da década de 1920, as construções ecléticas passaram a ser amplamente criticadas por escritores, pensadores e arquitetos brasileiros. Mário de Andrade, Monteiro Lobato, entre outros, escreveram artigos se posicionando contra o que eles consideravam como a “cidade europeia” no Brasil. Defendiam a arquitetura barroca mineira como a verdadeira representante do caráter nacional. Frente a ela, as construções de inspiração europeia se tornavam inadequadas para o cenário tropical.
Com a ascensão do Movimento Moderno, por volta da década de 1930, houve uma progressiva eliminação da abordagem da produção arquitetônica do século XIX nas escolas de arquitetura. Em seu livro sobre a arquitetura brasileira escrito na década de 1970, Lemos (1979) afirma que a arquitetura nacional demonstra a existência de uma cultura verdadeiramente brasileira apenas em três momentos de sua história: na arquitetura paulista do ciclo bandeirista, no barroco mineiro e na arquitetura moderna. Essa declaração comprova a extensão do preconceito contra a arquitetura produzida durante o século XIX. No Brasil, a renovação do interesse sobre o assunto nos meios acadêmicos ocorreu a partir dos trabalhos apresentados no II Congresso Brasileiro de História da Arte, de 1984, dedicado ao neoclassicismo e ao ecletismo. Este encontro deu origem ao livro Ecletismo na Arquitetura Brasileira, organizado por Annateresa Fabris e publicado em 1987. Atualmente, têm surgido novos estudos e pesquisas a respeito do assunto com o propósito de resgatar a importância desta produção dentro da historiografia nacional, mas ainda há muito trabalho a ser realizado, especialmente, nas cidades do interior do país.
Referências Bibliográficas:
1. Este texto faz parte da tese de doutorado “A Mulher e a Casa, Estudo sobre a relação entre as transformações da arquitetura residencial e a evolução do papel feminino na sociedade carioca no final do século XIX e início do século XX”, defendido pela autora, em 2012 no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG (NPGAU).
2. BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Perspectiva, 2004.
3. LEMOS, Carlos. Ecletismo em São Paulo. In: FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel, 1987.
4. DEL BRENNA, Giovanna Rosso. Ecletismo no Rio de Janeiro (séculos XIX-XX). In: FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel, 1987.
5. DEL BRENNA, Giovanna Rosso. Ecletismo no Rio de Janeiro (séculos XIX-XX). In: FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel, 1987.
6. LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979.
7. SALGUEIRO, Heliana Angotti. O Ecletismo em Minas Gerais: Belo Horizonte 1894-1930. In: FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel, 1987.
8. RICCI, Claudia Thurler. Construir o passado e projetar o futuro: a arquitetura eclética e o projeto civilizatório brasileiro (Rio de Janeiro 1903 – 1922). Rio de Janeiro: 2004. Tese (Doutorado em História Social) – UFRJ.
9. Idem.
10. Reforma realizada no Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906, que modificou parte da área central da cidade através da demolição de cortiços, abertura da Avenida Central (hoje avenida Rio Branco) e construção de arquiteturas simbólicas como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e a Escola Nacional de Belas Artes.
11. LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979.
Revisão do artigo: Camila Bernardino | Edição do artigo: Robertha Silveira